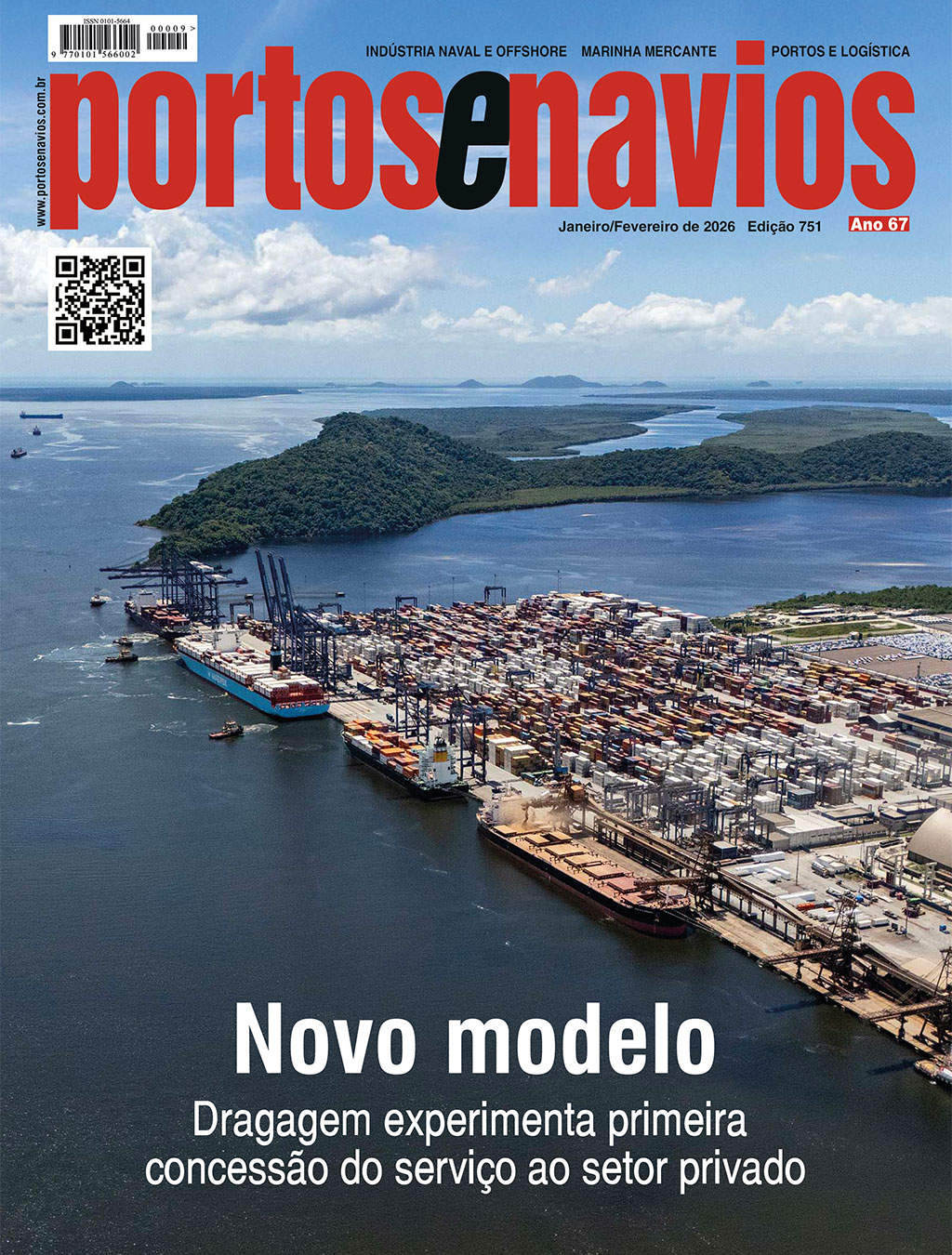O grande inimigo da política industrial no Brasil sempre foi a emergência de quadros latentes ou explosivos de vulnerabilidade externa. A escassez de divisas obriga a busca de políticas de resultado rápido. O imperativo da competitividade que dela decorreu, por exemplo, na década de 1980, resultou em um conjunto de intervenções na atividade produtiva que não somente foram mal-sucedidas em sua própria época como ainda deixaram uma herança muito custosa no longo prazo. A reserva de mercado da informática talvez constitua o exemplo mais acabado dessas dificuldades.
Mesmo longe do ideal, e especialmente se cotejado em perspectiva histórica, o quadro macroeconômico brasileiro em meados da década passada era favorável à realização de uma política industrial ousada. A vulnerabilidade externa esteve fora do radar nesse período. Saldos robustos na balança comercial, entrada firme de capitais não especulativos, volumosas reservas internacionais e, nos anos finais, as fabulosas perspectivas do pré-sal deixaram a sensação de que o país rumava para um longo período de abundância de dólares, algo ímpar em sua vida econômica.
Poucas vezes o país teve a oportunidade de implementar políticas com prazo de maturação tão longo quanto o que se descortinou nesses anos. O foco da política na criação de competências tecnológicas que favorecessem o readensamento das cadeias produtivas, que foram muito machucadas pelo processo de reestruturação anterior, mostrava-se plenamente justificável.
A política industrial posta em prática no Brasil nos últimos anos necessita ser redesenhada
Por razões diversas, que ainda estão por ser corretamente diagnosticadas, essa oportunidade histórica não foi devidamente aproveitada. Avanços podem ser enumerados, mas nada que possa denotar que a indústria brasileira tenha dado um verdadeiro salto adiante. Retrocessos também podem ser contabilizados, sendo o principal deles a profunda deterioração da competitividade externa da indústria ocorrida especialmente após a crise financeira global de 2008.
De fato, basta observar o desempenho da balança comercial brasileira, que segue batendo recordes negativos, para evidenciar essa constatação. O déficit de US$ 2,8 bilhões de fevereiro último é o maior registrado para esse mês desde quando a atual série histórica foi iniciada em 1980. Uma análise mais aprofundada sugere que, mesmo que ao longo do restante desse ano a balança melhore e retorne ao azul, é inegável que a competitividade externa da indústria brasileira está diante de um quadro crítico.
A evolução nos últimos dez anos dos coeficientes de comércio exterior da economia brasileira, apurados pela Funcex (disponível em Indicadores CNI, ano 4 nº 4, outubro-dezembro de 2014) fornece bons indicadores da extensão do problema. Lá pode-se ver que o coeficiente de exportação, que havia atingido um máximo de 22,9% em 2004, está parado na casa dos 18,8% desde 2011.
Aqui cabe uma observação. Embora sejam de fácil compreensão, a análise dos coeficientes de comércio enfrenta algumas dificuldades. Como esses coeficientes refletem uma relação entre fluxos em dólares (as exportações e importações) e em reais (a produção industrial), cabe lembrar que o cálculo é sensível a variações da taxa de câmbio em vista de um efeito estritamente contábil. Por exemplo, uma desvalorização do real, como vem acontecendo nos últimos anos, amplia o valor em reais da corrente de comércio, provocando um aumento dos coeficientes mesmo que nenhuma mudança efetivamente tenha ocorrido no comércio exterior. Por isso, se o coeficiente exportado tem permanecido praticamente constante nos últimos anos, deve-se entender que o peso das exportações relativamente às quantidades produzidas, que é a verdadeira medida de competitividade, deve ter se reduzido no período.
Uma forma de dimensionar o desempenho competitivo sem esbarrar na interferência "contábil" exercida pela taxa de câmbio é comparar as taxas de crescimento da corrente de comércio de um país em relação a uma região tomada como referência. E os resultados não são diferentes. Com base em dados do Comtrade, verifica-se que a participação das exportações brasileiras de bens manufaturados no total mundial evoluiu de 1,02% em 2003 até atingir um máximo de 1,27% em 2008. Daí até 2013 (último ano para o qual o dado mundial é disponível) o indicador recuou para 1,08%, quase retornando ao nível inicial. É bem provável que o dado de 2014 quando disponível irá revelar que essa participação já rumou para nível inferior ao do início da série.
Diante disso, é forçoso reconhecer que a política industrial posta em prática no Brasil nos últimos anos necessita ser redesenhada. Não quer dizer que essa política seja o festival de equívocos que o discurso de oposição eleitoral tentou construir. Porém, tampouco é justificável a sua defesa como um elenco bem concebido e bem implementado de iniciativas dotadas de grande efetividade que teria sido atropelada por uma conjuntura internacional desfavorável.
Mais importante do que alimentar esse jogo retórico é direcionar a reflexão para buscar compreender as reais implicações das grandes transformações ocorridas. A mais evidente delas é simplesmente o fato de que o país se vê novamente diante do imperativo da competitividade. E os desdobramentos desse fato exigem pensar estrategicamente os novos desafios que a indústria terá de enfrentar de modo a definir as condições de contorno em que a política industrial necessita se encaixar. Em primeira aproximação, não parece ser o objetivo de criação de competências tecnológicas que deva entrar em cheque. São os instrumentos capazes de promovê-lo que deverão constituir o principal alvo da necessária tarefa de reformulação da política industrial.
David Kupfer, professor licenciado e membro do Grupo de Indústria e Competitividade do Instituto de Economia da UFRJ (GIC-IE/UFRJ), é assessor da presidência do BNDES. Escreve às segundas-feiras. E-mail: gic@ie.ufrj.br) www.ie.ufrj.br/gic. As opiniões expressas são do autor e não necessariamente refletem posições do BNDES.
Fonte: Valor Econômico/David Kupfer
PUBLICIDADE